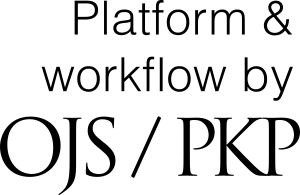De diagnósticos e prognósticos: laudos na configuração de muitas experiências escolarização
Palavras-chave:
Escolarização, Deficiências, Fracasso Escolar, Dislexia.Resumo
Este artigo analisa o tema dos laudos médicos na configuração de experiências de escolarização. Trata-se de um tema muito presente desde o início do século XXI, associado à produção de diagnósticos individuais, como a indicação da dislexia ou do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade para explicar o fracasso escolar. Com base em pesquisas realizadas nos últimos anos, o presente estudo analisa criticamente como o tema da patologização da vida escolar é mais abrangente. Essa maior abrangência diz respeito à presença histórica dos laudos em experiências de segregação escolar. E não é somente questão histórica. No atual cenário, a escolarização de crianças com deficiência ou cronicamente enfermas é marcada pela subordinação dos argumentos pedagógicos à lógica estigmatizante dos laudos.
Downloads
Referências
ANGELUCCI, Carla; SOUZA, Beatriz de Paula (org.). Medicalização de crianças e adolescentes: conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.
AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 2010.
BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de M.; AMADO, Janaína (org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 183-191.
BOURDIEU, Pierre. O senso prático. Petrópolis: Vozes, 2012.
BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Resolução n. 41, de 13 de outubro de 1995. Diário Oficial da União, Brasília, 17 out. 1995.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações. Brasília: MEC/Seesp, 2002.
CARVALHO, Marta M. C. Quando a história da educação é a história da disciplina e da higienização das pessoas. In: FREITAS, Marcos Cezar de (org.). História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2017. p. 395-416.
COLLARES, Cecilia Azevedo Lima. O cotidiano escolar patologizado: espaço de preconceitos e práticas cristalizadas. 1995. Tese (Livre-docência) – Faculdade de Medicina, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995.
CORREA, Mariza. Cidade dos menores: uma utopia dos anos 30. In: FREITAS, Marcos Cezar de (org.). História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2017. p. 143-164.
COSTA, Patrícia da Silva. Crianças e a memória do confinamento. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação e Saúde) – Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2010.
CURI, Luciano Marcos. Excluir, isolar e conviver: um estudo sobre a lepra e a hanseníase no Brasil. 2010. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.
DUCATTI, Ivan. A hanseníase na Noruega, segundo os arquivos de Bergen. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 25., 2009, Fortaleza. Anais [...]. Fortaleza: Associação Nacional de História, 2009. p. 20-29.
FARIA, Amanda Rodrigues. Hanseníase, experiências de sofrimento e vida cotidiana num ex-leprosário. 2009. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade de Brasília, Brasília, 2009.
FREITAS, Marcos Cezar de. O aluno incluído na educação básica: avaliação e permanência. São Paulo: Cortez, 2013.
FREITAS, Marcos Cezar de; ARAUJO, Nina Rosa. Relato de experiência com crianças surdas na escola pública: a importância estratégica da língua de sinais. Periódico Horizontes, Itatiba, SP, v. 37, p. 2-17, 2019.
FREITAS, Marcos Cezar de; FREITAS, Marly S. Educação e asma: pressupostos para um diálogo interdisciplinar. In: SOLÉ, Dirceu; WANDALSEN, Gustavo Falbo; LANZA, Fernanda de Cordoba (org.). Asma no lactente, na criança e no adolescente. São Paulo: Atheneu, 2017. p. 343-353.
FREITAS, Marcos Cezar de; GARCIA, Eduardo de Campos. Crianças com implante coclear. Relatório de pesquisa. Guarulhos: PPG Educação e Saúde, Unifesp, 2017.
FREITAS, Marcos Cezar de; JACOB, Rosângela N. Inclusão educacional de crianças com deficiências: notas do chão da escola. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 45, 2019.
FREITAS, Marcos Cezar de; PRADO, Renata Lopes C. O professor e as vulnerabilidades infantis. São Paulo: Cortez, 2017.
FREITAS, Marcos Cezar de; SANTOS SILVA, Kelly C. Crianças desatentas e hiperativas? Controvérsias e a opinião de professores sobre os diagnósticos de TDHA na escola. Revista Travessias, Cascavel, PR, v. 8, n. 1, p. 376-412, 2014.
FREITAS, Marcos Cezar de; ZANINETTI, Bruna. O aluno cronicamente enfermo: vulnerabilidades entre a sala de espera e a escola. Cadernos de Pesquisa em Educação, Vitória, ES, ano 13, n. 44, p. 181-207, 2016.
GARCIA, Eduardo de Campos. Implante coclear: estudos concernentes à biopolítica, ao biopoder e ao biocapital. 2015. Tese (Doutorado em Educação, Arte e História da Arte) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.
GAUDENZI, Paula; ORTEGA, Francisco. Problematizando o conceito de deficiência a partir das noções de autonomia e normalidade. Ciência & Saúde Coletiva, v. 21, n. 10, p. 3061-3070, 2016.
GEERTZ, Clifford. The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 2010.
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Petrópolis: Vozes, 2008.
GOFFMAN, Erving. Ritual de interação: ensaios sobre o comportamento face a face. Petrópolis: Vozes, 2012.
GOFFMAN, Erving. Comportamento em lugares públicos: notas sobre a organização social dos ajuntamentos. Petrópolis: Vozes, 2014.
KUNZRU, Hari. “Você é um ciborgue”: um encontro com Donna Haraway. In: TADEU, Tomaz (org.). Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p. 17-32.
LANDMAN, Patrick. Tous hyperactifs? L’incroyable épidemie de troubles de l’attention. Paris: Albin Michel Press, 2015.
LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. A vida de laboratório: a produção dos fatos científicos. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000.
MARTINEZ, Albertina M.; REY, Fernando G. Psicologia, educação e aprendizagem escolar: avançando na contribuição da leitura cultural-histórica. São Paulo: Cortez, 2017.
MEAD, Margareth. Male and female. New York: Harper Collins, 1990.
MONARCHA, Carlos. O triunfo da razão psicotécnica: medida humana e equidade social. In: STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Camara (org.). Histórias e memórias da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2005. v. 3, p. 129-141.
MONARCHA, Carlos. Estilos de psicoclínicas: livrar a infância dos embaraços psíquicos (1930-1940). In: RODRIGUES, Elaine (org.). História da infância no Brasil. Maringá: EDUEM, 2010. p. 30-40.
MONTEIRO, Paulo Henrique Nico; BIZZO, Nelio. A saúde na escola: análise dos documentos de referência nos quarenta anos de obrigatoriedade dos programas de saúde, 1971-2011. História, Ciência, Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 411-427, 2015.
MONTEIRO, Yara Nogueira. Da maldição divina à exclusão social: um estudo sobre a hanseníase em São Paulo. 1995. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humana, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.
MOTTA FILHO, Candido. Tratamento dos menores delinquentes e abandonados. Relatório ao secretário de Justiça do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1935.
MOYSÉS, Maria Aparecida A. A institucionalização invisível: crianças que não aprendem na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2001.
NASCIMENTO, Heleno Braz. A lepra em Mato Grosso: caminhos da segregação social e do isolamento hospitalar. 2001. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2001.
OPROMOLLA, Paula Araújo. Informação em saúde: a trajetória da hanseníase no Estado de São Paulo. Tese (Doutorado) – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
PORTER, Roy. História do corpo. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 2014. p. 297-334.
RIZZINI, Irene; CELESTINO, Sabrina. A cultura da institucionalização e a intensificação das práticas de confinamento de crianças e adolescentes sob a égide da FUNABEM. In: FREITAS, Marcos Cezar de (org.). História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2017. p. 229-251.
ROZINETI, Maria. Encaminhamentos escolares: ressonâncias e dissonâncias entre profissionais de educação e de saúde. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação e Saúde) – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2016.
SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Educação. Portaria 5707/11. Regulamenta o Decreto 52.785 de 10/10/11 que criou as Escolas de Educação Bilíngüe para Surdos – EMEBS na rede municipal de ensino e dá outras providências. São Paulo, 2011.
SCHIAVI, Aldino. Infância e criminalidade. 1926. Tese (Doutorado em Medicina) – Escola de Medicina de São Paulo, São Paulo, 1926.
SILVA, Ana Paula F.; FREITAS, Marcos Cezar de. Escolarização, trabalho e sociabilidade em “situação de risco”: apontamentos para uma antropologia da infância e da juventude sob severa pobreza. In: FREITAS, Marcos Cezar de (org.). Desigualdade social e diversidade cultural na infância e na juventude. São Paulo: Cortez, 2006. p. 17-42.
SKLIAR, Carlos. Os estudos surdos em educação: problematizando a normalidade. In: SKLIAR, Carlos (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2005. p. 13-23.
SOUZA, Leticia Pumar Alves. Sentidos de um país tropical: a lepra e a chaulmoogra brasileira. 2009. Dissertação (Mestrado em História das Ciências da Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2009.
WILLIAMS, Raymond. Keywords: a vocabulary of culture and society. New York: Columbia University Press, 2010.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Petrópolis: Vozes, 2012.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2019 Cadernos de Pesquisa

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
a. Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
b. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
c. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho on-line (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).